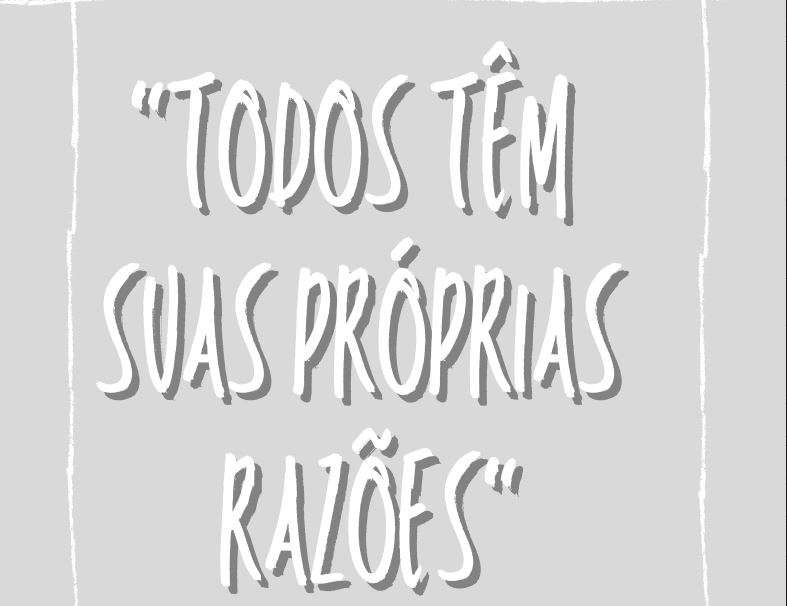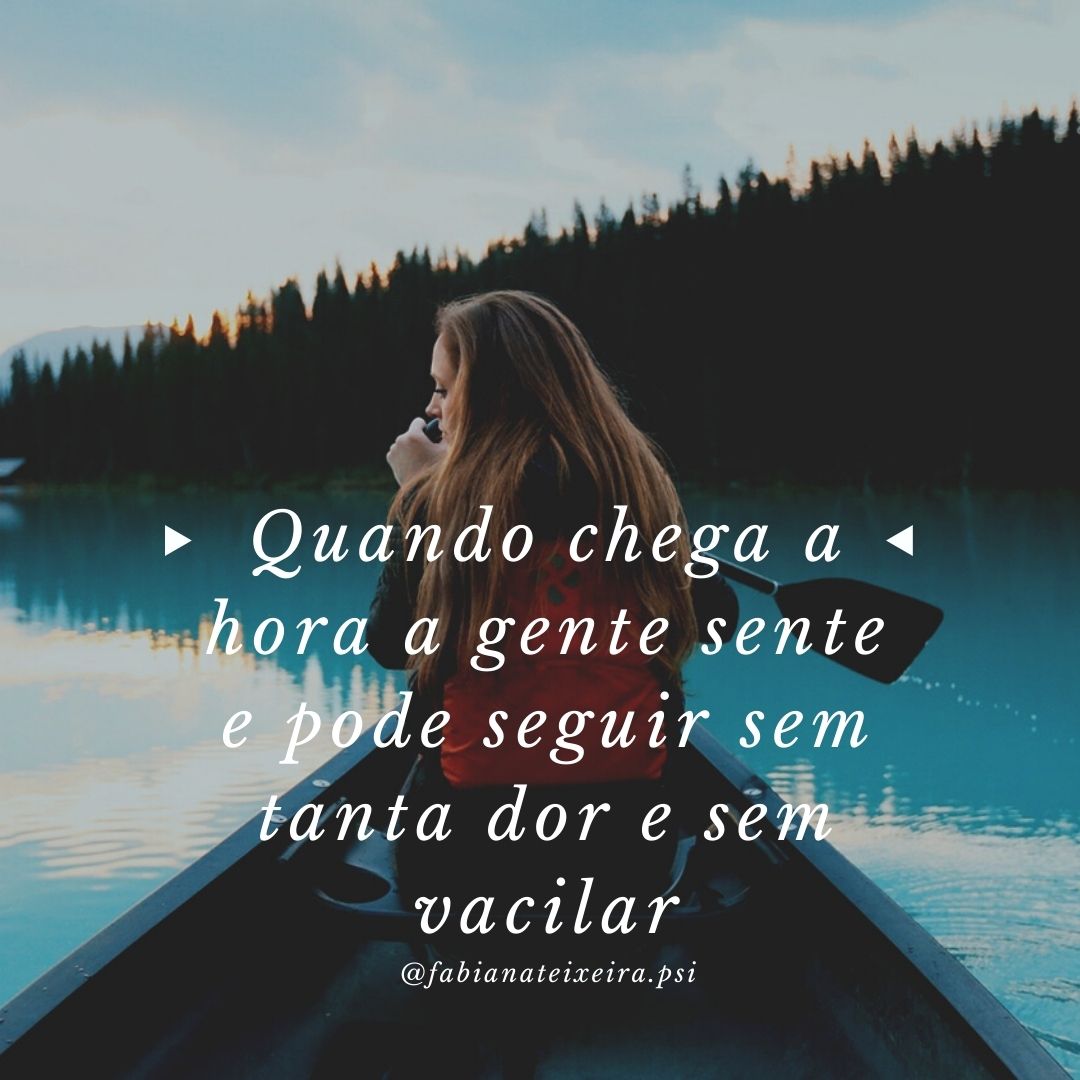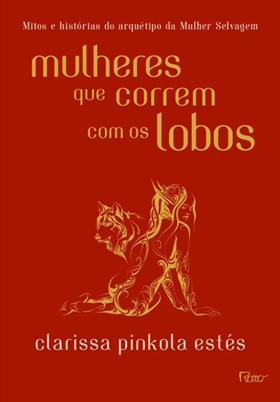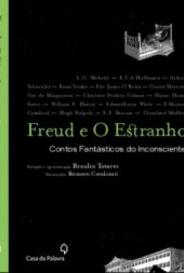Se eu tivesse que escolher uma única frase entre as quase 100 canções da Legião seria essa: “Todos têm suas próprias razões”, da música Eu era um lobisomem juvenil*. Eu realmente compactuo com a proposta de que existem razões, motivos e justificativas para as ações de cada um, por mais bizarras que elas possam parecer. Por isso adoro tanto ler biografias e ouvir as histórias de vida das pessoas.
Além de ler e escutar também gosto de me surpreender com as conexões que elas fazem entre uma experiência e outra, na tentativa de construir ou criar certa construção de por que se é assim, ou como a vida chegou a este ponto. Sem falar no fato de que olhando bem de perto, a vida de ninguém foi um jardim de rosas.
Quando a gente se debruça a pensar no “lado B”, nos bastidores, geralmente nos surpreendemos bastante. Sobre as dores e angústias alheias, sobre os reais impactos das consequências mais subjetivas, nada ou muito pouco, sabemos. Na prática, isto não é tão simples. Por isso resolvi esboçar este texto.
Cada um tem suas próprias razões. O que isso significa?
Quando a gente aceita o fato de que cada um tem razões e motivos para ser quem é, fazer o que faz, ter os objetivos que tem, não significa que a gente concorde, relativize ou desmereça. Acho que nunca é demais lembrar a diferença entre entender e concordar/aceitar e desculpar algumas coisas.
Quando entendo, não significa que eu compactue, que queira fazer parte, ser participante. Mas entendo que cada pessoa tenha suas razões para fazer o que faz, para gostar do que gosta e está tudo bem.
Daí eu fazer parte disso, parabenizar a pessoa, nutrir afeto por ela, ou algo assim, é outra coisa. Quando isso transborda o campo individual e reverbera no coletivo fica mais explícita a diferença. Se um discurso implica em romper pactos éticos que envolvem vidas alheias, se estremece o campo da coletividade, aqui tem uma lacuna gigante.
Quando um comentário deixa de ser opinião e incita a violência, desencoraja as pessoas a tomarem uma vacina, a cumprirem pactos que estabeleceram com outras pessoas a coisa vai tomando uma proporção maior. (Não custa lembrar que discurso de ódio não é opinião e ficar repassando Fake News não seja irrelevante, ainda que você tenha suas razões).
Lendo algumas postagens aqui na internet, a ideia de que cada um tenha as próprias razões parece difícil no nosso contexto, porque implica inevitavelmente em julgar menos, em não deduzir e não avaliar a vida alheia. Inclusive, em tentar entender como as pessoas “passam pano” para quem vai tolindo sua autonomia e de alguma forma capturando seus direitos.
Às vezes, tentar entender é muito difícil, porque algumas atitudes parecem carecer de lógica básica, mas olhando com cuidado deve haver uma conexão com o fato. Há uma história de vida por traz de toda postagem, de todo comentário.
E quando isso é muito bizarro geralmente há também pouca reflexão, muita rigidez e um automatismo de massa, que impede questionamentos básicos e imprescindíveis para uma certa liberdade e leveza. Ainda mais para mudanças e transformações. E isso causa certo impasse em escrever e no modo como seremos interpretados.
Assim, seja lá o que for que você esteja pensando agora sobre quem quer que seja… Talvez você não tenha nem uma pequena noção do que de fato se trate… E as redes sociais confundem bem essas questões.
O quanto o outro é feliz, está satisfeito, planeja, espera, se movimenta em busca de… Não sabemos. A razão de cada um mostrar o que mostra, fazer o que faz e silenciar ou argumentar o que quer que seja, salvo em raras exceções, também não nos será revelada. Até porque nem sempre a própria pessoa sabe suas motivações, ainda que acredite que saiba.
O mais bacana disso tudo, é lembrar da nossa instância inconsciente, essa da qual também não conhecemos tanto assim, não sem antes nos enveredarmos por um significativo trabalho psíquico.
Do inconsciente, emergem muitos de nossos motivos e se nem nós mesmos podemos defendê-los em quaisquer circunstâncias, por que tanto atrevimento em julgar o alheio?
E assim surgem as intolerâncias…
Diante destes tensos discursos homofóbicos, transfóbicos, misóginos, machistas, antivax, acho fundamental esse esclarecimento. Entender razões me fazem precisar argumentar e dizer de forma bem esclarecida o quanto não concordo – e não farei parte disso.
Ainda que no particular, no caso a caso você tenha suas razões e eu possa até compreendê-las. É importante entrar em contato com as próprias razões para avançarmos enquanto humanidade.
Quando paro pra ler as postagens no Insta tendo a tentar escutar além das palavras, vejo as contradições, os preconceitos, a incoerência dos discursos que ainda que cercados de palavras vitais, propagam uma vibe mortífera e incoerente.
Sim, entendo que todos tenham suas próprias razões.
Mas precisamos de um pacto coletivo, ético, respeitoso e pacífico.
Se vai ferir, maltratar, adoecer, desrespeitar o outro lembre-se que todos têm suas próprias razões. Você também. Entenda as suas, depois se for o caso, passe adiante.
* trecho de “Eu era um lobisomem juvenil”, do álbum As quatro estações.
**“Quem insiste em julgar os outros, sempre tem alguma coisa pra esconder”